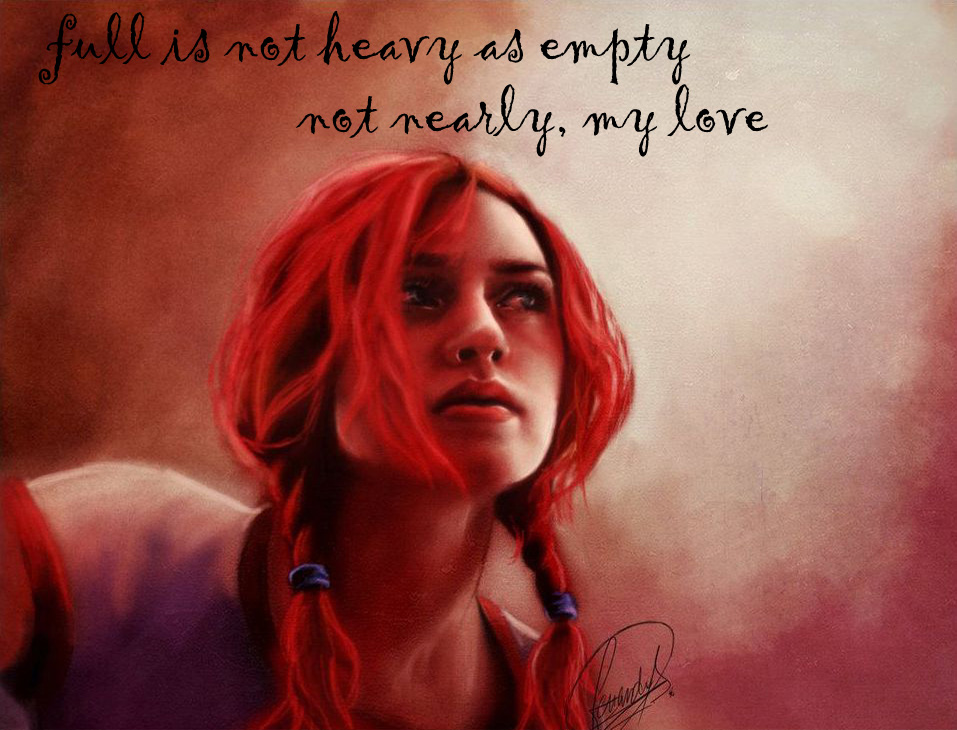escrevo porque dói. porque a realidade gosta de dar tapa, cuspir e amassar nossa cara. transforma a vida em um conto escrito por ela, onde escolhe o que quiser, desde as cores do céu até o meu estado de tristeza momentâneo de hoje.
o que seria da vida sem poesia? não só palavras, mas principalmente o sentir, o querer criar, transformar e mudar. não há nada mais terrível do que um texto quando não há comida no prato. não se pode comer a sílaba soluçante, mesmo que se queira chorar. não há poesia no papel enquanto não houver a liberdade, porque poesia que fica só no papel não é poesia.
poesia transborda, inunda, alaga o corpo inteiro. é algo que parece milagre, que faz querer crer em deus. e para onde foi? fugiu para baixo do tapete, foi se esconder longe daqui?
a poesia morre a cada bala perdida. tenta correr, mas não há fuga para a fome. não há para onde fugir, quando o lucro sufoca qualquer tentativa de ser. de ser mais. de querer. tentou escapulir para a lua, para o sol, para os amores ainda vivos, mas tudo é mais forte. a poesia acredita em mais do que somente nós dois, ela é maior, não consegue estar viva só com um amor ou numa música do chico buarque.
é preciso, ainda que com palavras doentes e sonolentas, força para continuar. é preciso, também, transformar a poesia no que ela deve ser: a realidade.
segunda-feira, 18 de julho de 2011
don't dream it's over
julia era um pássaro. com sua rebeldia, abria as asas para longe e voava.
desde pequena enfrentava os "nãos" com "por quês?" e os castigos com histórias que só contava para ela mesma. apanhava muito do seu pai, que queria colocar a filha em seu devido posto: com as bonecas, quieta e atrás da pia.
sempre quis ultrapassar o muro da casa. nos seus sonhos, corria corria corria, mas não sabia aonde chegar. engraçado essa sensação, não é ainda a de estar perdido, mas a de saber que onde estamos não é nosso lugar. quando acordava, o susto de estar no quarto, a cama, a parede pintada de rosa, as milhares de fotos sem graça penduradas num muralzinho. um levantar da cama, um joelho preguiçoso, ai manhã de sol queimando tudo que poderia ser, colocando em chamas a libertad.
julia foi ao mercado fazer compras. todo primeiro domingo do mês era a mesma história. fazer a lista, ver que o dinheiro estava faltando, entrar em desespero, mas comprar o que der. ainda escutava desaforos do pai por ter esquecido uma coisa ou outra.
(a mãe havia morrido há alguns anos. tinha certeza que morrera de tristeza, por não existir amor entre ela e o pai, mas um convívio desgastante, escravo e sem luz, sem força, sem vida.)
na fila, uma mulher de cabelos compridos e voz suave cantava uma música: there's freedom within, there's freedom without, try to catch the deluge in a paper cup". não entendeu nada da letra, pois não sabia inglês, mas sentiu-se tonta e um pouco feliz, aquela melodia, de alguma forma, se tatuava na pele como uma partitura.
- qual o nome dessa música?
silêncio.
- oi! qual o nome dessa música, desculpe interromper...
- tá falando comigo?
- é. gostei muito do que você tá cantando.
desde aquele momento em diante, não deixaram de se falar um dia. tornaram-se muito amigas. contavam suas tormentas, seus desesperos, compartilhavam as pequenas felicidades. o que julia não sabia é que iria se apaixonar tão profundamente por aquela mulher que conheceu na fila do supermercado.
namoraram por muito tempo até que o pai descobrisse. e o que era a liberdade tornou-se razão para o enclausuramento. julia agora era um pássaro engaiolado. não podia mais ver a pessoa com quem mais se sentia feliz, livre, completa. o pai chamou psicólogos, espancava todos os dias uma parte do corpo e do amor de julia.
o quarto voltou a ser a fogueira, os sonhos cortados pelos gritos e palavrões, as fotografias todas lembravam que a realidade de agora era mais forte do que qualquer sorriso de anos atrás.
- tenho vergonha de te ter como filha. vagabunda, puta!
não ligava para uma palavra do que falava, mas ainda assim sentia umas lágrimas caírem com o orgulho machucado. sentia falta de ver filme e passear de mãos dadas pela praia à noite, dos olhares trocados, das conversas silenciosas e cúmplices, das cartas e das flores, do chocolate de aniversário, da passagem que tinham comprado para o nordeste... queria o corpo e a alma, o cheiro, a voz.
nunca mais a abraçou, sequer pôde se despedir. para onde foi, não sei. julia só conseguiu cantar aquela música novamente anos depois, quando estava fora de casa, com um emprego.
ainda que com asas queimadas no fogão, conseguiu voar. um vôo torto, mas que procurava o seu lugar.
desde pequena enfrentava os "nãos" com "por quês?" e os castigos com histórias que só contava para ela mesma. apanhava muito do seu pai, que queria colocar a filha em seu devido posto: com as bonecas, quieta e atrás da pia.
sempre quis ultrapassar o muro da casa. nos seus sonhos, corria corria corria, mas não sabia aonde chegar. engraçado essa sensação, não é ainda a de estar perdido, mas a de saber que onde estamos não é nosso lugar. quando acordava, o susto de estar no quarto, a cama, a parede pintada de rosa, as milhares de fotos sem graça penduradas num muralzinho. um levantar da cama, um joelho preguiçoso, ai manhã de sol queimando tudo que poderia ser, colocando em chamas a libertad.
julia foi ao mercado fazer compras. todo primeiro domingo do mês era a mesma história. fazer a lista, ver que o dinheiro estava faltando, entrar em desespero, mas comprar o que der. ainda escutava desaforos do pai por ter esquecido uma coisa ou outra.
(a mãe havia morrido há alguns anos. tinha certeza que morrera de tristeza, por não existir amor entre ela e o pai, mas um convívio desgastante, escravo e sem luz, sem força, sem vida.)
na fila, uma mulher de cabelos compridos e voz suave cantava uma música: there's freedom within, there's freedom without, try to catch the deluge in a paper cup". não entendeu nada da letra, pois não sabia inglês, mas sentiu-se tonta e um pouco feliz, aquela melodia, de alguma forma, se tatuava na pele como uma partitura.
- qual o nome dessa música?
silêncio.
- oi! qual o nome dessa música, desculpe interromper...
- tá falando comigo?
- é. gostei muito do que você tá cantando.
desde aquele momento em diante, não deixaram de se falar um dia. tornaram-se muito amigas. contavam suas tormentas, seus desesperos, compartilhavam as pequenas felicidades. o que julia não sabia é que iria se apaixonar tão profundamente por aquela mulher que conheceu na fila do supermercado.
namoraram por muito tempo até que o pai descobrisse. e o que era a liberdade tornou-se razão para o enclausuramento. julia agora era um pássaro engaiolado. não podia mais ver a pessoa com quem mais se sentia feliz, livre, completa. o pai chamou psicólogos, espancava todos os dias uma parte do corpo e do amor de julia.
o quarto voltou a ser a fogueira, os sonhos cortados pelos gritos e palavrões, as fotografias todas lembravam que a realidade de agora era mais forte do que qualquer sorriso de anos atrás.
- tenho vergonha de te ter como filha. vagabunda, puta!
não ligava para uma palavra do que falava, mas ainda assim sentia umas lágrimas caírem com o orgulho machucado. sentia falta de ver filme e passear de mãos dadas pela praia à noite, dos olhares trocados, das conversas silenciosas e cúmplices, das cartas e das flores, do chocolate de aniversário, da passagem que tinham comprado para o nordeste... queria o corpo e a alma, o cheiro, a voz.
nunca mais a abraçou, sequer pôde se despedir. para onde foi, não sei. julia só conseguiu cantar aquela música novamente anos depois, quando estava fora de casa, com um emprego.
ainda que com asas queimadas no fogão, conseguiu voar. um vôo torto, mas que procurava o seu lugar.
o salto na imensidão
havia aprendido, anos atrás, nas aulas de redação de um colégio chato e sem graça, onde éramos todos obrigados a fazer coisas que não queríamos fazer, que todo enredo tem um começo, um meio e um fim. engraçado é perceber que a vida também é assim, mesmo que nunca nos lembremos de seu começo.
hoje, ao olhar para a porta de casa, não entendia muito bem se queria sair ou ficar. estava congelando, sem vontade de viver nem respirar qualquer perfume de jasmim, quando voltasse do trabalho tarde da noite. há uma árvore que só exala a partir das 18 horas, como se a lua fosse parte do seu odor.
olhava para os pés, e estes a lembravam do caminho que fazia todo final de semana até o ponto de ônibus e do ponto de ônibus até a casa dele. em alguns momentos de desespero, pensou em amputá-los, tal era a dor que aquelas lembranças lhe traziam, um formigamento quase alérgico.
saiu. e o vento arrancou de seus cabelos o número do celular que já passeava nas mãos. era tempo de apagar todas as ligações, mensagens e choros (porque também choram as palavras). engoliu a saliva e sentiu um gosto quente descer pela garganta: o sal das ondas presas.
tinha a bolsa junto ao peito, como se precisasse se agarrar a alguma coisa: um pano, um cheiro, um soluço. o rumo seguia, não há trabalho que espere a nossa dor passar. a não ser quando um familiar morre, nos dão alguns dias, como se fosse o suficiente para curar a falta. mas não há sequer um minuto para um coração partido.
lembrou da dureza das palavras de gabriel garcia marquez e também sentiu cólera. uma cólera doente, suor, frio, tempestades. será que sobrava um tempo para passar na igrejinha? queria o silêncio, as imagens de salvação, o amor de deus. precisava passar lá, não iria conseguir ficar no trabalho sem chorar... tinha que descarregar e enterrar de uma vez por todas aquelas malditas imagens.
não ia mais se casar, como tantas vezes pensou que iria. isso é uma espécie de castigo? é possível o amor acabar? o amor é como uma bebida de carnaval, como um cigarro de padaria? envelhece, assim como a vida, o amor? faz parte de uma redação de escola? é o amor alguns rabiscos indefinidos, uma passagem a limpo e, depois de fechado o caderno e arquivada a prova, se esvai? e isso importa, agora?
a realidade se comprova sem questionamentos. o que fica disso tudo não são sequer respostas, mas dúvidas e bagunça.
chorava em cores: cada sorriso, flor, abraço, beijo e segredo saía de si para o mundo. não havia pontos finais possíveis, quando o acabado ainda é incompleto. o que resta é uma espera. um sentar de leve num balanço, até ter a coragem de saltar do alto, fingir que voa e se machucar no chão de areia novamente.
para minhas amigas, lygia e dandara.
Assinar:
Postagens (Atom)